
HAPPY BDAY

Em alguma madrugada cinzenta perdida em fevereiro, ela abriu os olhos. As primeiras gotículas da frente fria já serpeavam inquietas do lado de fora da janela e, tendo passado por momentos tempestuosos nos meses anteriores, ela torceu para que a chuva fosse apenas coincidência. Mas, se tratando daquele dia, era difícil acreditar nisso. Essa era uma daquelas manhãs nas quais a gente tem até medo de colocar os pés pra fora da cama sabendo que, no exato momento em que fizer isso, estará dando o primeiro passo dentro de uma nova fase. A luz forte que sua mãe acendera para arrancá-la da cama refletia seus cabelos exageradamente ruivos na parede e, embora tudo conspirasse para que não o fizesse, ela abriu os olhos. E foi.
A apreensão tomou forma de euforia e, logo em seguida, a tranqüilidade também disse olá. Os dias passaram e, entre um copo de caipirinha e um olhar fotográfico de reconhecimento, ela ganhou um presente. Desconhecia o remetente e não sabia por que haviam lhe enviado aquilo. Era um baú de madeira, desses antigos que a gente vê em filme de pirata. De início, ela achou gozada a aproximação repentina, mas foi em pouco tempo – e um lindo tempo – que a arca transformou indiferença em afeto.
As pessoas que viviam perto estranhavam a arca e, por vezes, queriam machucá-la. Ela detestava essa gente. Não era pra menos, e a menina, que insista em ver cada pessoa como o melhor ser humano existente, pasmem, no fundo também só enxergava maldade nos novos estranhos. Esse foi o primeiro sentimento que a garota e a arca dividiram. Só o primeiro.
A partir daí, timidamente, dividiram horas a fio de conversas sobre livros, amigos em comum e sonhos. Aí, passaram a falar mal de gente feia, burra e mal-vestida. Cumplicidade. As idéias batiam, se enroscavam e se abraçavam – e rolavam na grama, pulavam pedras no rio e fingiam ser Fred Astaire e Audrey Hepburn. Pensavam imutavelmente igual. Quando perceberam isso, ah, foi um tal de “alma gêmea” pra cá, “irmão e irmã” pra cá, uma coisa de louco. Continuaram dividindo, e dividiam copos, camas, danças, até amores! O que era de um, era de outro. Quem andava perto chegava a ficar desconfortável com tanta sintonia. “Meu Deus, eu não entendo nada que esses dois falam”. É porque, meus caros, eram não somente bons entendedores, mas especialistas um no outro, e meia letra já bastava! No início da frase, os dois pares de olhos se encontravam e riam em consentimento, uma coisa incrível. Um já não vivia mais sem o outro, “eu não existo sem você”, até que um dia... Wow, a arca tinha diminuído de tamanho! Sempre vaidosa, com essa mania de emagrecer. Estava linda.
E passaram por tanta coisa juntos. Gargalhadas – e quantas! –, panelas de brigadeiro, brigas (“esses dois parecem um casal de velhos, estão sempre se xingando”), sessões de cinema, de teatro (e quando era a arca que estava no palco, ela chorava), perdas e lágrimas. É, lágrimas. A arquinha bem que tentava passar a impressão de que era dura como a madeira de que era feita, chegava a dizer com todas as palavras que tinha coração de “pedra”! Mas a menina, e talvez só ela, não se deixava enganar.
A arca não era sempre a única na vida da garota, mas ocupavam sempre o mesmo lugar em dois corações. Ela, a menina, sempre fora cercada de boas amigas, mas o baú tinha algo díspar. E ela não sabia dizer, com precisão, o que era. Talvez fosse tampa de menino-homem com conteúdo melindroso, o bruto da madeira com a sensibilidade dos rococós entalhados, ou mesmo a contemporaneidade de quem sempre fora à frente do seu tempo. E era precoce, mesmo.
Certa vez, a garota sonhou que a arca escrevia para ela, e sobre ela: “Por trás de duas enormes lentes escuras, como se escondidos, dois olhos expressivos. É fácil perceber que são tímidos. Difícil é percebê-los na camada embaixo da íris ou de qualquer parte material que se sobreponha aos seus verdadeiros adjetivos: são doces. (...) Descobre-se, no fim das contas, que os óculos escondem os olhos não para esconderem a dona deles. A culpa é da tal fotofobia que faz com que lacrimejem fora de hora - o que, vamos combinar, é um tanto incômodo”.
É, ela nunca perdia o humor, característica – e essa é importante destacar! – que estava entranhada em cada poro envernizado da madeira. Às vezes, a menina achava que a arca a conhecia melhor do que ela mesma, e acreditava ser recíproco.
E, sabe, tinha gente que não reparava os detalhes na madeira trabalhada, adornos que, esculpidos na arquinha, a tornavam muito mais formosa do que qualquer convencional fabricada em série. Essa era única. Mas aí teve um dia em que ela foi acordada com um clique e, quando deu por si, a tampa da arca havia aberto. O estampido foi ouvido de longe, e por muita gente. Gente essa que, boquiaberta, admirou o conteúdo do baú. A menina assistiu do parapeito da janela, com um sorriso bobo no rosto, as pessoas embasbacadas fazendo festa, apertando a mão e saudando aquela peça que colecionador nenhum tinha parecida. Dessa vez, ela pôde dividir as lágrimas de orgulho com mais uma multidão. Mas, no entanto, havia uma felicidade que era só da garota: a de saber que, para ela, a arca sempre esteve aberta exibindo o maior tesouro, amarelo e reluzente. Que nem os seus cabelos.
A arca, como dádiva, veio em seguida do momento mais difícil da vida da menina e esteve presente nas épocas de maior aprendizado. E, então, a dupla cresceu, não andava mais junta todo o tempo. Mas o tesouro estava, para sempre, enterrado no cerne de cada um deles. E nada tira a certeza de que os dois, juntinhos, irão sentir as rugas na cara e as lascas do mogno diluindo o tempo, bem velhinhos, vez ou outra palpitando sobre amores, lençóis, arte, passado e sonhos.
*
Mariana Bradford.
(O que houve que os headers viraram fantasmas?)



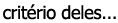

Um comentário:
...complexo...tenho que ler e reler!!!
Postar um comentário